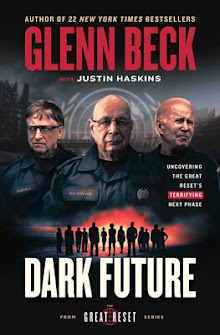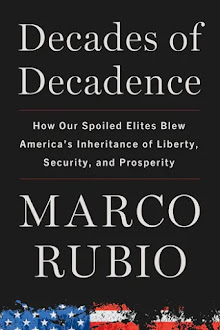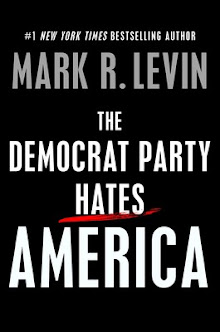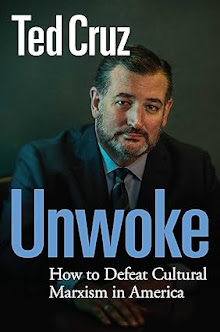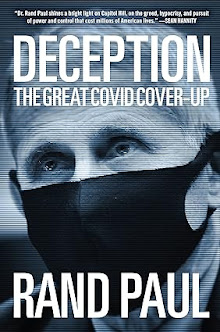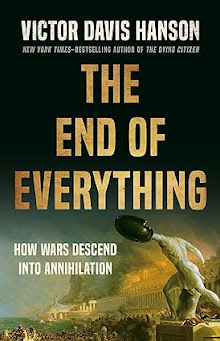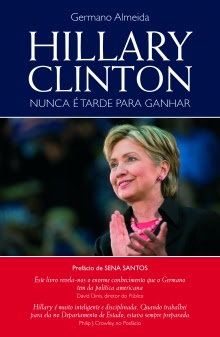skip to main |
skip to sidebar
(Uma adenda no final deste texto.)
Barack
Obama fez, nesta semana, uma breve viagem ao Médio Oriente. E, com a excepção
de aquela ter incluído a sua primeira visita a Israel, não se vislumbra(ra)m
quaisquer vantagens, quaisquer resultados úteis deste périplo… deste passeio
(mais um) com o Air Force One.
Antes de mais, passou apenas por dois países:
para além da pátria judaica, a Jordânia – enfim, três, pois também foi à
Cisjordânia, ou seja, à Autoridade Palestiniana, onde comparou o relacionamento
entre israelitas e palestinianos com relacionamento entre… norte-americanos e canadianos! Mais do que um comentador se interrogou se alguma vez do Canadá
foram lançados mísseis contra os EUA… Em
Israel deu-se ao desplante de «dar lições» de empatia aos israelitas em relação
aos palestinianos… como se não fossem estes que não reconhecem àqueles o direito
de viver numa nação própria; antes tinha sido «recebido» com uma «salva de boas-vindas» de foguetes (mais uma) disparados da Faixa de Gaza pelo Hamas – pelo
que aquela presunção, do início da sua presidência, de que os EUA passariam a
ser melhor vistos pelos muçulmanos por ele ter vivido entre eles é já só uma
distante memória… se é que alguma vez teve um mínimo de consistência.
É
de questionar por que motivo este périplo não incluiu mais países daquela zona
do Mundo. Nomeadamente, especialmente, o Egipto. Terá Barack Obama concordado
com a advertência que terá sido feito pelo Rei Abdullah da Jordânia para «ter
cuidado com a Irmandade Muçulmana»? Uma organização que a actual administração
norte-americana tanto incentivou e de que tanto esperou aquando da «Primavera
Árabe»? Porém, e aparentemente, a passividade das autoridades do Cairo aquando
do ataque, a 11 de Setembro último, à embaixada dos EUA na capital egípcia não
terá prejudicado a confiança da Casa Branca nos novos senhores do Nilo. Se
assim não fosse, não teriam aprovado a oferta de aviões F-16, a venda de gás lacrimogéneo e a concessão de uma ajuda financeira no valor de 250 milhões de dólares – e isto num período em que os cortes resultantes do «sequestro»
(decidido por BHO) fizeram cancelar as visitas de crianças ao Nº 1600 da
Avenida de Pensilvânia. Na verdade, o que há a recear de Mohammed Morsi e dos
seus comparsas? O presidente do Egipto «apenas» tem no seu «cadastro»
afirmações (de 2010) como a de que os judeus são «sanguessugas descendentes de macacos e de porcos» ou a de que «devemos educar os nossos filhos e netos no ódio aos judeus»; já o seu assessor principal, Fathi Shihab Eddim, afirmou este
ano que o Holocausto é «um mito e uma indústria que a América inventou». Sim,
«não há» dúvida de que o actual Egipto é um aliado «credível» dos EUA e de
Israel. «Certeza» que ficou sem dúvida «reforçada» com a condenação em
tribunal, também já em 2013, de toda uma família (mãe e sete filhos) a 15 anos de prisão por se terem convertido ao Cristianismo. Mas a oposição popular à
Irmandade Muçulmana existe na terra dos faraós; muitos têm-se manifestado
regularmente e não se mostram contentes com a colaboração – ou, pelo menos, a
tolerância – do governo norte-americano com Morsi e companhia.
Outro
país que «ficava no caminho» - de ida e de volta – de Barack Obama, e no qual
ele poderia ter feito uma «escala», era a Líbia. Seria talvez uma oportunidade
para o presidente esclarecer o que de facto aconteceu em Benghazi, também a 11
de Setembro de 2012, e o que ele fez então em Washington… ou não fez. Leon
Panetta, então secretário da Defesa, e (o general) Martin Dempsey, então
coordenador do comité militar conjunto (chair of the Joint Chiefs of Staff),
declararam-no, inequivocamente, numa audiência no Senado: o presidente foi
informado, brevemente, do ataque ao consulado norte-americano naquela cidade
líbia logo após ter começado e, depois, não mais voltou a querer saber do que
se passava lá. Este comportamento só pode ter uma classificação: criminoso. Nos
dias e semanas seguintes, e como se sabe, mentiu sobre as causas e as
circunstâncias daquele atentado, para não prejudicar a sua campanha de
reeleição. E até se permitiu fazer humor, lançar uma piada, com as
mortes de quatro compatriotas, incluindo o embaixador, que ele provavelmente
conheceu em Chicago…
…
E a sua então secretária de Estado Hillary Clinton é igualmente culpada,
co-(ir)responsável por este e por outros fracassos na política externa e de
segurança dos últimos quatro anos – embora o de Benghazi tenha sido, indubitavelmente, o maior e o pior, e não só de 2012.
Só mesmo quem é completamente ignorante ou intelectualmente desonesto é que
pode afirmar que a mulher de Bill foi uma excelente ministra dos negócios
estrangeiros. Barack Obama, claro, pertence à segunda (falta de) categoria,
acrescida por uma (habitual) falta de gramática: Hillary foi «uma das melhores secretária de Estados»… sim, foi tão «boa» e tão «competente» que, na mesma
ocasião (uma conferência, em Janeiro) em que equiparou os republicanos a terroristas muçulmanos (uma práctica habitual no Partido Democrata), também expressou a sua
«grande esperança» de um dia poder sentar-se à mesma mesa, e negociar, com o Hamas! E nem tudo o que aconteceu na Líbia lhe mereceu o mesmo comportamento, o
que se «compreende»… Ela recusou-se a dar entrevistas após o atentado de 11 de
Setembro último, mas quando em 2011 o regime de Muhammar Khadaffi foi derrubado
e o ditador morto, ela não teve qualquer problema em vangloriar-se na televisão…
Causa, pois, alguma surpresa que ela tenha tido o atrevimento de perguntar, e
de exclamar, durante a sua audiência final no Senado enquanto secretária de
Estado, «que diferença é que faz» saber como e porque é que aconteceu o ataque
ao consulado de Benghazi e as mortes de quatro compatriotas? Mas, sim, faz toda a diferença. O seu comportamento foi vergonhoso, indigno da posição que ocupava…
e sem dúvida que será recordado se e quando ela se candidatar a presidente em
2016.
Se
Hillary Clinton foi má, ou pelo menos medíocre, enquanto chefe da diplomacia norte-americana,
o seu sucessor no cargo reúne todos os «atributos» para ser ainda pior… Recorde-se
que John Kerry acusou compatriotas seus de cometerem crimes de guerra no
Vietnam e no Iraque; votou contra a Guerra do Golfo (de 1991); visitou regularmente
Bashar Al-Assad na Síria; investiu em empresas acusadas de violarem as sanções comerciais contra o Irão. Enfim, os seus dislates na área dos negócios
estrangeiros já foram tantos que permitiram a elaboração de uma lista dos seus
«dez maiores erros». E, assim que se viu confirmado e empossado no seu novo
cargo, não perdeu tempo a procurar mais itens para uma próxima lista. O seu
primeiro discurso enquanto secretário de Estado não foi sobre a Coreia do
Norte, a China, o Médio Oriente, a Rússia, Europa, África ou a América Latina
mas sim sobre… o «aquecimento global»! «Inventou» um país… o «Quirzaquistão» -
nada de especial, tendo em conta que Barack Obama «inventou» (pelo menos) mais sete
Estados norte-americanos. E em Berlim «esclareceu» uma audiência de estudantes alemães que nos EUA qualquer cidadão tem «o direito de ser estúpido»; um «direito»
que, com efeito, ele exerce frequentemente.
Não
sejamos, no entanto, demasiado «duros» com Hillary Clinton e com John Kerry. Eles
podem ser, oficialmente, as figuras de proa desta actual diplomacia… macia – e ridícula
– norte-americana, mas, na verdade, mais não fazem do que cumprir as directivas
do «chefe». A «Doutrina Obama» na política externa, se é que ela existe, revelou-se
um fracasso, que ele não admite, e até critica um jornalista – o habitualmente «fiel»
Chuck Todd! – que sugeriu isso. Um livro recentemente publicado caracteriza-o,
neste âmbito, como um presidente mal aconselhado, «hesitante, controlador e avesso a atitudes de risco» – isto é, atitudes de risco contra inimigos. O que
talvez explique porque a actual administração continua a recusar a divulgação de
informações – incluindo imagens – do «funeral» de Osama Bin Laden, porque tal
poderia «inflamar tensões entre populações estrangeiras que incluem membros ou simpatizantes da Al-Qaeda». Ou que tenha concedido à Arábia Saudita, e aos seus
habitantes, o privilégio de «viajante(s) de confiança», ou seja, a
possibilidade de entrarem nos EUA com menores – ou inexistentes – formalidades burocráticas…
algo de que os cidadãos, por exemplo, do Reino Unido, da França, da Alemanha e de
Israel ainda não dispõem. Recorde-se que a Arábia Saudita - perante cujo rei BHO já se curvou - «forneceu» 15 dos 19
terroristas do 11 de Setembro de 2001; e no seu território ainda se fazem crucificações. Vão se percebendo os critérios do Sr. Hussein para escolher os
«países amigos».
(Adenda
– Em 2012, Barack Obama recusou-se a falar, na Universidade de Georgetown, sob
um símbolo de Jesus Cristo. Todavia, em 2013, nesta sua viagem ao Médio
Oriente, aceitou falar sob uma – grande – fotografia de Yasser Arafat;
posteriormente, foi noticiado que os EUA haviam concedido à Autoridade
Palestiniana uma ajuda financeira de 500 milhões de dólares. Continuam a
perceber-se as prioridades desta presidência…)
A
palavra é mesmo «celebrar»: então como agora não me arrependo de ter apoiado,
defendido, esta guerra. E orgulho-me de ter sido em Portugal, na chamada
«Cimeira dos Açores», que a decisão final – de a desencadear – terá sido tomada. Ao contrário de (muitos) outros, a minha opinião neste tema não mudou, não
«evoluiu». Porque vale sempre a pena combater, derrotar e capturar um assassino
de massas que terá sido responsável, material e (i)moralmente, por cerca de um
milhão de mortos, principalmente iraquianos, mas também iranianos e
kuwaitianos. As armas de destruição maciça… existiram mesmo: perguntem aos
curdos, sobreviventes e familiares das vítimas, gaseados em 1988 às ordens de
Bagdad, se elas eram reais ou não.
Um
dos melhores indicadores, hoje, da justificação e do sucesso da libertação do
Iraque é… a ausência de notícias sobre o Iraque! Não total, evidentemente:
ocasionalmente, são reportados atentados perpetrados por extremistas que ainda
não foram exterminados, e que, por mais que se «esforcem», não conseguem
desestabilizar definitivamente um novo país, uma nova sociedade que – por mais
que se espantem jornalistas, especialistas, analistas e outros «istas» – vai sendo, com dificuldade é
certo, mas também com perseverança, com esperança, construída pela população,
pensando em especial nas suas novas gerações. População essa que, ao contrário
do que dá a entender a comunicação social internacional, não se limita a
esperar, escondida e amedrontada, pela próxima explosão bombista e que, melhor
ou pior, vai fazendo a sua vida. Que até Bill Maher mostre a sua surpresa por
isso é muito significativo, e simbólico, do que muitos ainda desconhecem… ou,
se conhecem, não querem admitir. Mas existe sempre a experiência, e o testemunho,
dos veteranos, alguns ainda jovens como Tom Cotton e Tulsi Gabbard; ambos são,
agora, representantes no Congresso, ele republicano e ela democrata; e ambos
concordam em não dar por desperdiçado o tempo que deram às forças armadas,
mesmo que possam discordar, hoje, quanto às causas e às consequências do
conflito de há uma década.
Sobre
este assunto, e evocando a efeméride, é de ler também: «Dez anos depois, ganhámos a guerra do Iraque?», Andrew Bacevich; «O colapso iminente do Médio Oriente?»,
Fred Kaplan; «Iraque, dez anos mais tarde: devemos recordar a nossa victória, não apenas a guerra propriamente dita», Joel B. Pollak; «A véspera da destruição: como era opor-se à guerra do Iraque em 2003», John B. Judis; «Iraque foi a última grande guerra», Matt Gurney; «Não é preciso arrepender-se por ter apoiado a Guerra do Iraque», Max Boot; «Dez anos passados, o caso para invadir o Iraque continua válido», Nick Cohen; «Guerra do Iraque ensinou-nos lições duras, mas o Mundo está melhor sem Saddam Hussein», Paul Wolfowitz; «Nunca esquecer: a nossa invasão do Iraque foi uma quebra de confiança», Richard A. Clarke; «O que nós aprendemos no Iraque»,
Steve Chapman; «Dez anos mais tarde, um aniversário que muitos iraquianos prefeririam ignorar», Tim Arango; «América hoje e a Guerra do Iraque», Bill O'Reilly.
(Adenda - Nouri al-Maliki, actual primeiro-ministro do Iraque, reafirma, em artigo no Washington Post, que a guerra foi justificada e que os seus compatriotas estão hoje, apesar de tudo, melhor do que durante o regime de Saddam Hussein. Mas o que é uma «ditadurazinha» para os pacifistas da treta?)
…
Porque, descontados todos os exageros partidários e apagadas todas as mentiras
eleitorais, nunca existiram quaisquer dúvidas, antes e depois de 6 de Novembro
último (uma data que, como foi revelado aqui no Obamatório, tinha para o filho
de George Romney uma carga simbólica acrescida), sobre quem, de entre ele e
Barack Obama, era – e é – o mais competente para o cargo. Uma dessas mentiras,
aliás, veio a ser posteriormente esclarecida: um dos anúncios de Mitt Romney
havia feito a alegação de que veículos Jeep iriam ser produzidos na China… e,
afinal, longe de ser a «lie of the year», era mesmo verdade. Também houve quem
reparasse que as «pastas cheias de (currículos de) mulheres» a que o
ex-governador do Massachusetts recorreu para formar a sua equipa em Boston
teriam sido úteis a Barack Obama numa Casa Branca em que a diversidade, apesar
das aparências, não é efectiva; e que o candidato do Partido Republicano tinha
conhecimento, durante a campanha, do conflito no Mali e das suas (previsíveis)
consequências negativas, comprovando a sua atenção e capacidade em política externa.
Aliás, neste domínio, uma das pessoas que mais terá lamentado a derrota de
Romney é o primeiro-ministro de Israel: não serão muitos os que sabem que os
dois foram colegas de trabalho e são amigos há quase 40 anos. Não, Benjamin
Netanyahu não apostou no «homem errado»…
…
E quem o fez foram outros. Vários têm sido os indícios, os sinais de buyer’s
remorse, de «remorso de comprador», de arrependimento por parte de (bastantes) eleitores. É evidente que, em «contrapartida», existem sempre aqueles que pensam – e escrevem – que o candidato derrotado tem alguma obrigação de
continuar na política activa e de como que contribuir para sucesso do seu
opositor e vencedor… Mas não, não tem. Barack Obama que trate de resolver – se quiser
e puder – o fiscal cliff e outros cliffs e sequesters que se lhe apresentem (e de que ele tem culpa). Queriam
aproveitar as capacidades de Mitt Romney? Os norte-americanos que o elegessem! Não
tendo isso acontecido, ele tem todo o direito de voltar à esfera privada, tanto
familiar como profissional, e até inclusivamente, de certo modo, conjugando as
duas, ao assumir um cargo de chefia na empresa de um dos seus filhos. Ele já
havia declarado: «Não me vou embora»… o mesmo é dizer, vai continuar a andar
por aí…
…
E está de consciência tranquila, como ficou comprovado pela entrevista que deu (a primeira depois da eleição), juntamente com a esposa Ann, há cerca de duas semanas a Chris Wallace e à Fox News. Os dois confirmaram que acreditavam,
sentiam, que iam ganhar; e, depois da desilusão da derrota, a maior frustração é não estar na Sala Oval para poder agir de um modo diferente, e melhor;
comportando-se como um adulto e não como uma criança mimada e birrenta em
campanha eleitoral permanente, que é o que o actual presidente faz – e que,
assim, e inevitavelmente, hostiliza os opositores e inviabiliza qualquer acordo
com eles. E ambos não deixaram de reconhecer a óbvia, e indesmentível,
desigualdade de tratamento por parte da comunicação social em geral, que, na
práctica, ampliou a estratégia de destruição de carácter seguida pela equipa de
Barack Hussein Obama. Os Romney têm todas as razões para se queixarem e para estarem «amargos» - à semelhança de John e de Cindy McCain há quatro anos.
Porém,
Mitt e Ann também reconhece(ra)m erros e insuficiências do seu lado. E, apesar
de não o terem nomeado especificamente, uma das maiores falhas, se não a
principal, terá sido o próprio «estrategista principal» de Romney, Stuart
Stevens. Uma demonstração da sua incompetência foi dada recentemente: negou que os media estivessem «in the tank» (digamos, a «fazer… panelinha») com Barack Obama. Com «amigos» destes quem precisa de inimigos? É pouco provável que quem se
recusa a ver, a reconhecer, a realidade esteja em condições de dar bons
conselhos e de delinear e de desenvolver uma estratégia vencedora; e também não
é muito abonatório que essa mesma pessoa tenha uma relação próxima com George Clooney,
que é «apenas» um dos maiores apoiantes de Obama! Curiosamente, John McCain
também passou por uma situação algo semelhante: o seu estrategista principal em
2008, Steve Schmidt, que agora anda a dizer que o GOP tem uma «postura anti-gay»,
também teve um desempenho deficiente que depois tentou disfarçar, e desculpabilizar,
responsabilizando Sarah Palin pelo fracasso. Fica uma sugestão para os próximos
candidatos republicanos: escolham melhor os vossos principais conselheiros e, pelo sim pelo não, evitem os que se chamam Steve(n)…
Quem,
nos Estados Unidos da América, lamentou a morte de Hugo Chávez? Quais foram as
individualidades e as instituições norte-americanas com um mínimo de
notoriedade pública que elogiaram, que enalteceram as «qualidades» de um
quase-ditador que regularmente insultava… os EUA (e não só George W. Bush), que
quase destruiu a democracia na Venezuela principalmente pelas restrições à
oposição e à comunicação social, que se tornou amigo dos maiores facínoras do
Mundo como os «ai-a-tolas» do Irão – que até decretaram um dia de luto oficial
por ele – e os irmãos Castro de Cuba (e de facínoras menores como o
«só-cretino» português), que alegadamente terá enriquecido escandalosamente
enquanto a maioria dos seus compatriotas empobrecia num país cada vez mais violento?
Quem
teve palavras simpáticas para com ele? Bem… os «progressistas», «liberais»…democratas do costume. Todos apoiantes e votantes, mais ou menos declarados, de
Barack Obama. Entre outros, e previsivelmente, Michael Moore, Sean Penn e
Oliver Stone, que perderam um «amigo» que «viverá para sempre na História» (só
se for por maus motivos…). No New York Times, sem surpresa, foram vários os que homenagearam aquele que supostamente «deu poder e energia a milhões de pobres».
Do Washington Post, Eugene Robinson falou
do «rápido, popular» e engraçado Hugo. Na The Nation, Greg Gardin, professor da
Universidade de Nova Iorque, queixou-se de que Chávez «não era suficientemente autoritário». A ABC e a NBC desmultiplicaram-se em peças apologéticas e apoplécticas.
Houve quem perguntasse, e com razão, se o HP (Huffington Post) se havia tornado uma «página dos fãs» de HC. Tantos outros exemplos houve de uma «imperialista»
imprensa impressionada e impressionável com a morte do seu «ídolo» que até na ThinkProgress, covil dos «controleiros» e censores ao serviço de George Soros,
se viram obrigados a (tentar) refrear um pouco os ânimos…
…
O que poucos resultados deve ter tido, porque em São Francisco – where else? –
se organizou uma vigília à luz das velas em memória de Hugo Chávez, de que um
dos lemas foi «precisamos de uma revolução aqui!» Essa «revolução», lembre-se,
foi tentada através do chamado movimento «Occupy» (Wall Street e outros locais), de que o coronel de Caracas/do caraças foi um dos «santos padroeiros». E, agora
que está morto, Hugo vai ter uma utilização condizente com a de um grande
«herói socialista/comunista/leninista»: mumificado, embalsamado, e em exposição permanente! O
que talvez beneficie o turismo venezuelano… Nesse sentido, os representantes
democratas Jose Serrano – que desejou a Chávez «descanse em paz» - e Gregory Meeks
– que se sentiu «honrado» por representar os EUA no funeral daquele – bem que
se podem tornar visitas regulares daquela nação sul-americana, para se prostrarem
(protegendo as próstatas) junto ao túmulo do fala-barato que «não se calava». Mas no dia 5 de Março calou-se. Finalmente.
«Vai arrepender-se disto!» Sim, Bob Woodward a ser ameaçado (foi o que aconteceu,
apesar de ele não ter utilizado a palavra), intimidado, por Gene Sperling, um
«conselheiro» (consigliere?) de Barack Obama é grave, mas é, antes de mais,
ridículo: será que o presidente e os seus «capangas» não sabem quem ele é, o que já fez e o que é capaz de fazer, o que representa? Porém, tal não
surpreende numa administração norte-americana que já excedeu todos os
anteriores limites de incompetência e de insolência; eles já mostraram que são
capazes de tudo. E «avisar» o histórico, lendário (e liberal) jornalista do Washington
Post para não os contrariar nem é o pior que a Casa Branca e os seus «anexos»
fizeram recentemente.
Bob
Woodward limitou-se, afinal, a revelar e a reafirmar a verdade: que a
«sequestração» - isto é, cortes obrigatórios em programas (despesas) federais –
que entrou em vigor ontem e que Barack Obama descreveu nas últimas semanas como
uma catástrofe quase apocalíptica (que não é) cuja culpa – claro! – seria do
Partido Republicano, afinal resultou de uma ideia, de uma proposta… dele próprio e da sua equipa! O actual presidente a mentir e a não assumir as suas
(ir)responsabilidades? Que «surpresa»! Mais, aqueles cortes não serão mais do que 85 biliões de dólares de um total de 3,6 triliões no primeiro ano, e, em vez de serem
aleatórios como os democratas apregoam, podem ser escolhidos e aplicados pelas entidades públicas de forma a atenuar, a diminuir, os seus eventuais efeitos prejudiciais. No entanto, os factos não interessam de todo a quem está apostado
em criar e em manter um ambiente permanente de confronto e de medo. Para quem
está constantemente a acusar os adversários políticos de tomarem os americanos
como «reféns» e de exigirem «resgates», ou seja, de os… sequestrar, não deixa
de ser irónico que finalmente seja revelado e provado «para além de uma dúvida
razoável» quem está, de facto, a «apontar uma arma à cabeça» dos norte-americanos,
em especial dos contribuintes: aqueles que se recusam a reconhecer, a começar por Obama, que os EUA têm um – assustador – spending problem. Há «males que vêm por bem», e talvez esta
sequestração, este «pequeno» corte acabe por representar o início de uma inevitável
e indispensável desaceleração, e de uma diminuição, dos gastos públicos que
atingiram no primeiro mandato de Obama valores absolutamente inacreditáveis e
insustentáveis.
Entretanto,
quem não alinha na narrativa da Casa Branca, quem confronta a «versão oficial»…
tem problemas; «quem se mete com o PD… leva!» E já é não só a Fox News a ser
colocada em «ponto de mira». Para além de Bob Woodward, outros «alvos»
inesperados vieram nos últimos dias denunciar coacções de que foram vítimas:
Ron Fournier, director editorial do National Journal; Lanny Davis, democrata
que foi conselheiro de Bill Clinton, enquanto colunista do Washington Times; Jonathan Alter, ex-editor da Newsweek. Nenhum deles pode ser considerado um conservador
right winger, muito pelo contrário… E não surpreende que existam muitos «jornalistas»
que, obedientes ao seu «dono», preferem usar a sua «voz» para duvidar e até troçar das alegações de Woodward, e de outros… enfim, não têm a coragem, as
qualidades, do co-autor de «All the President’s Men». Justificam o incidente
com o facto de todas as administrações terem tido episódios de confrontação com
a imprensa. Mas então… não era suposto Barack Obama ser diferente (para
melhor)? Não foi com base nisso que ele concorreu e venceu?
Esta
administração já não se restringe a acusar tudo e todos excepto si própria, a
desperdiçar (tempo e dinheiro), a mentir descaradamente… agora já está igualmente disponível para se deixar corromper abertamente. Prova disso é a revelação de que a
Organizing for America, a nova forma institucional do movimento de campanha de
Barack Obama, está a vender acesso ao Sr. Hussein, encontros trimestrais com o
presidente, a doadores que despendam pelo menos 500 mil dólares. Deve ser este
o montante da tantas vezes mencionada «fair share». Não é novidade esta
predilecção selectiva pelo «vil metal»: os «milionários» só são os «maus da
fita» quando não dão dinheiro a democratas. E percebe-se melhor a revelação que
Al Sharpton fez de algo que o Nº 44 lhe disse: «(ainda) não consegui tudo o que quero dos ricos». Palavras de um comunista, como suspeita Harry C. Alford, CEO da Black Chamber of Commerce que votou em BHO em 2008 (mas não em 2012)?
Provavelmente, não; é mais de um extorsionista de Chicago.
Patrick
Caddell, outra figura insuspeita (é democrata e foi conselheiro de Jimmy
Carter), não tem dúvidas e escreve preto no branco: «Obama é a coisa mais próxima de Nixon que vimos nos últimos 40 anos». É evidente que essa
proximidade é aos (baixos) níveis da paranóia, da conflitualidade, da
indiferença em practicar acções ética e legalmente condenáveis. Porque, ao
nível das realizações, as diferenças – a favor do Nº 37, cujo centenário do nascimento se assinala este ano – são enormes. Entre outras, Richard Nixon, bem
ou mal, teve de terminar, e terminou, o envolvimento dos EUA no Vietnam
iniciado por John Kennedy e continuado por Lyndon Johnson; deu seguimento, e
conclusão, ao programa Apolo de viagens à Lua iniciado por Kennedy e continuado
por Johnson; criou a Environmental Protection Agency; e fez a viagem à China continental,
reconhecendo o regime de Pequim e Mao-Tse-Tung, o que representou uma
transformação fundamental nas relações internacionais e na ordem mundial. E
quando, ainda por cima, Bob Woodward, um dos homens que desencadeou o caso
Watergate que levaria à renúncia de «Tricky Dicky», se vê envolvido, é impossível não ver o paralelismo, não aceitar o prenúncio… de que a História se
pode repetir, mas agora em sentido – partidário – inverso.
Enfim,
a lista de motivos para uma impugnação – ou para uma demissão – está cada vez
maior. A 18 de Novembro escrevi aqui: «Quem acredita em “movimentos cíclicos”
na política, quem acredita que 2012 foi uma repetição “ao contrário” de 2004,
então tem de aceitar que 2014 vai ser igualmente uma repetição “ao contrário”
de 2006, e 2016 uma repetição “ao contrário” de 2008… Contudo, quem sabe se, a
curto ou médio prazo, 2012 não acabará por parecer-se mais com… 1972?» E,
consequentemente, quem sabe se, a curto ou médio prazo, 2014 não acabará por
parecer-se mais com… 1974?